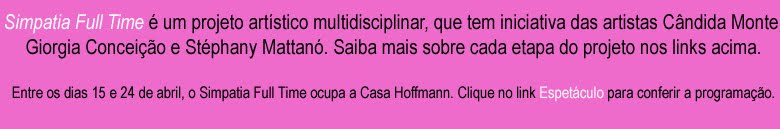A histeria e a beleza: uma expressão no contexto cultural da atualidade
Lilian Freire*
RESUMO
Qual é a relação entre cultura e mulher?, poderíamos perguntar. É esse o conteúdo desta resenha, que visa a propor, como tema de discussão, a hipótese de que a excessiva preocupação com a beleza e a perfeição do corpo é uma forma encontrada pela mulher para exprimir-se na cultura. O investimento no corpo é uma pista que nos leva à histeria como fenômeno de massa, apresentando caricaturas de feminino, que renegam noções tradicionais: bondade, maternidade, fragilidade, morte, pureza, danação, tabu. Diante de tais rótulos, a mulher recua, impondo uma agressividade que lhe foi negada por milênios.
Palavras-chave: Beleza, Histeria, Cultura, Subjetividade.
A histeria, hoje, tornou-se um fenômeno de massa, apresentando-se mais claramente nas caricaturas de feminilidade. Como a primeira e talvez principal temática freudiana, a histeria foi a força motriz da Psicanálise, e Freud, no decorrer de suas investigações clínicas, postulou que mulher e cultura histericizam-se mutuamente.
Nesse contexto, que papel exerce a televisão nessa cena, como principal meio difusor de tantos modelos a serem seguidos pela histeria? Por que a mulher se comporta como um camaleão, disfarçando-se? O que a motiva? Percorremos aqui três caminhos: a relação de Freud com a mulher, o desenvolvimento do conceito de histeria e sua atual configuração e, por fim, a relação da cultura com a mulher, apontando para a histeria como forma de expressão da subjetividade.
A investigação freudiana da etiologia da histeria teve como base a interrogação “o que quer uma mulher?”, dando seus primeiros passos rumo à fundação da Psicanálise. Assoun (1993) considera que Freud não se interessou apenas pelos fenômenos histéricos; seu interesse pela mulher tornou-se uma reflexão sobre as conseqüências da feminilidade na cultura, fundamentado naquilo que escutou na clínica.
Foram as pacientes de Freud que determinaram sua coragem e sua persistência na fundação da Psicanálise. A partir de suas experiências clínicas, Freud pôde abdicar de noções e métodos ineficazes para o tratamento do corpo histérico, antecipando a necessidade de fazer um diagnóstico (se a doença era de ordem orgânica ou psíquica) para aplicar ao doente a terapêutica adequada. Garcia-Roza (1998) sublinha que esta sempre foi uma preocupação para Freud, pois uma confusão de tal ordem comprometeria a Psicanálise.
Em 1889, Freud já considerava, contrariamente a Charcot, que a etiologia da histeria deveria ser procurada nos fatores sexuais. Esse foi o ano em que teve seu primeiro contato com Emmy von N., caso que lhe indicou a importância da fala, da associação livre e da conceituação da histeria como uma neurose com sintomas particulares. Farias (1999) assinala a transformação da clínica no final do século XIX: houve um deslocamento do campo visual – teatralização da histérica observada na Salpetrière – para a escuta.
A grande inovação freudiana, a partir dessa paciente, foi ter levado o doente à posição de primeira pessoa, falando em seu próprio nome. Por fim, Emmy von N. fez com que Freud renegasse a noção de degenerescência que se impunha no conceito de neurose: ele enaltece, em seu relato, sua capacidade intelectual, retidão moral, consciência dos deveres, extensa cultura, amor à verdade, modéstia interior e distinto trato senhorial.
Em 1891, Freud tratou de Elizabeth, que tinha, em sua história, uma sucessão de problemas e frustrações. Logo percebeu que ela sabia as razões de sua enfermidade e que, desse modo, aquilo que guardava em sua consciência era um segredo e não um corpo estranho. Por causa desse saber não sabido, Freud pôde renunciar à hipnose, recorrendo a ela quando a memória de vigília não fosse eficaz para a elucidação dos sintomas.
O que Freud ressaltou aqui foi a natureza da relação entre Elizabeth e seu pai, que a considerava como um filho, prevendo que sua personalidade atrevida colocaria empecilhos para que arranjasse um marido. Para Freud, Elizabeth ganhava em termos intelectuais mas afastava-se da imagem ideal que devia ter uma mulher. Considerava-a pouco conformada com seu sexo e revoltava-se com a idéia de se casar, sacrificando suas inclinações, sua liberdade de julgamento e seus projetos ambiciosos.
Dora foi um marco para a Psicanálise, levando Freud a importantes avanços: descoberta da fantasia como materialidade psíquica, estudo e interpretação dos sonhos e a questão da transferência. Ao mesmo tempo, levou-o a refletir, a partir do fracasso, sobre a impossibilidade de que o analista pudesse atuar apoiado apenas no saber teórico. Postulou, então, que ele deveria partir de um ponto onde o saber não é dado a priori, pois diz respeito a uma verdade do sujeito que se produz no terreno da transferência, no decorrer do tratamento.
Essas três mulheres, como tantas outras pacientes, chegaram a Freud por muitas vias, mas, em geral, pelas mãos de um homem: pai, médico ou marido. De onde vieram essas mulheres histéricas e que conceito poderoso é esse que motivou Freud a fundar um saber?
A particularidade da histeria reside no fato de que coloca o corpo
Ao freqüentar as aulas de Charcot na Salpetrière, Freud observou que, nas histórias das pacientes aparecia, sistematicamente, a relação entre histeria e sexualidade. Tal relação, desconsiderada por Charcot, tornou-se o ponto de partida e o núcleo da investigação freudiana. A partir de seu contato com Emmy von N., Freud situou a histeria no âmbito psíquico, considerando-a como uma defesa na medida em que o sujeito produzia sintomas para afastar, da consciência, representações de conteúdo sexual que seriam intoleráveis. Os sintomas, assim, seriam uma substituição aceitável para a consciência devido a sua constituição moral: o conflito ficou explicado entre o sexual e o moral.
Nessa época, Freud já considerava a sexualidade infantil, e para Farias (1993) esse seria o suporte para a teoria da sedução precoce, podendo-se admitir que a sexualidade oculta na situação traumática é de caráter infantil e, mais precisamente, pré-sexual. Suas formulações da histeria como defesa datam de 1892 até 1897, período
Essa sexualidade teria origem na infância, podendo ou não tornar-se traumática, dependendo das circunstâncias. Aqui esboçava-se a teoria da sedução: o sedutor teria um papel ativo e o outro seria o objeto passivo da sedução. Freud acreditava que somente com a maturação sexual, localizada na puberdade, a criança poderia dar significado a essas experiências, e postulou o recalque como mecanismo de esquecimento e da ignorância inerentes à criança.
Diante da vivência de situações similares, a criança seria capaz de dar significação sexual às experiências do passado que, ao serem revividas e articuladas à situação atual, seriam experimentadas de forma passiva. A partir da não-aceitação dessa experiência sexual, rejeição motivada pela moralidade imposta pela civilização, as lembranças e sensações seriam recalcadas e os sintomas seriam produzidos como substitutos das recordações e até das sensações de prazer que as acompanhariam.
Nesse contexto, Freud percebeu que a criança era ativa, apelando pela ação do adulto. Ouvindo as histórias dos pacientes, ele pensou sobre o realismo das cenas de sedução e passou a considerá-las como construções imaginárias, designando-as como primeira mentira (proton-pseudos) ou fantasia. A partir daí, a sedução passou a ser compreendida como uma fantasia de “suas histéricas” e a cena sexual deixou de ser fundamental. A fantasia, como materialidade psíquica, entra na determinação do recalque, sendo responsável pela formação do sintoma histérico.
Em 1923, Freud percebeu que não havia correspondência no desenvolvimento sexual do menino e da menina. A oposição seria “fálico-castrada”. Em 1925, ele propôs para a menina a vivência da fase pré-edipiana, caracterizada por uma forte ligação afetiva com a mãe, encontrando no apego ao pai a melhor saída dessa relação primária. Assim, Freud colocou a mãe como protagonista da novela histérica e surgiram em cena a identificação, o falo, o complexo de castração e o complexo de Édipo, sendo que a articulação desses elementos é que compõe a explicação sobre a histeria.
O conceito de histeria, em Freud, é definitivamente desvinculado do hysterus grego, abrangendo mais do que a manifestação demoníaca proposta pelo cristianismo e a encenação fabricada por Charcot. Em relação à histeria, o corpo é fundamental: fonte e base para o desenvolvimento da vida sexual que se inicia logo após o nascimento. Freud (1923/1996) afirmou que, para a criança, não há primazia do genital, mas um primado do falo. A menina, portanto, não reconheceria sua vagina como órgão sexual, mas acreditaria que todos, homens e mulheres, têm pênis.
A histeria se organiza na fase do desenvolvimento da sexualidade que é um foco de sofrimento, já que é desproporcional aos meios físicos e psíquicos da criança. Como a tensão é intensa demais para o eu infantil, a sexualidade torna-se traumática e destinada ao recalcamento. Nessa fase de primazia do falo – precursora da forma final assumida pela vida sexual e já semelhante a ela – a criança se lança em uma investigação, geralmente sobre sua própria origem. Garcia-Roza (1995) explica que Freud designou esse impulso de investigação como “pulsão de saber”. Sua origem está na primeira infância e, no decorrer do desenvolvimento infantil, usa parte de sua energia sexual como reforço, caracterizando-se por uma ânsia inesgotável que leva a criança a perguntar sobre tudo.
Nasio (1991) aponta que é o próprio corpo erógeno da criança que produz o evento psíquico, por ser o foco dessa sexualidade nascente. Para que o frágil eu infantil possa suportar o surgimento de um desejo sexual intenso, surgem, como proteção, fabulações, cenas e fantasias inconscientes. No núcleo da fantasia está o lugar erógeno do qual “jorra” uma sexualidade excessiva, não-genital, auto-erótica, automaticamente submetida à pressão do recalcamento.
Assim, o desejo é o ponto nodal da fantasia que ocupa um lugar estático na vida do neurótico e é através dela que o sujeito constrói sua vida, pautando-se em acontecimentos reais, visto que as fantasias são fabricadas por meio de coisas ouvidas e vistas anteriormente. Segundo Pommier (1991), a fantasia fundamental da histérica pode ser referida aos pontos ternários do complexo edipiano: mãe, falo, criança. A encenação da fantasia significa que a satisfação do desejo está impedida, e isso por culpa de um pai, investido pela menina como portador do falo. Ao perceber que está privada de algo devido à castração simbólica, o desejo surge na menina. Muribeca (2000) assinala que o desejo é uma das significações que o falo tem. É a essa falta do falo que a histérica (mas não somente ela) remete, vivendo uma eterna busca permeada pelo desejo de completude.
A principal causa da histeria estaria na atividade inconsciente de uma representação superinvestida que se desenrola no cenário da fantasia. A cena fantasística é tão real para a histérica quanto a cena traumática ocorrida na realidade, dando forma e figura dramática à tensão desejante. Mesmo sendo fantasiada, essa tensão continua insuportável, favorecendo o aparecimento da angústia. A fantasia fundadora da histeria é o complexo de castração que, em sua versão feminina, é um fato consumado: a menina se vê, vê a mãe e percebe a falta de pênis, culpando a mãe por isso. Volta-se, então, para o pai como objeto de seu amor, em substituição à mãe, esperando que ele lhe dê o desejado pênis. É através dessa relação com o pai que a menina tem acesso à feminilidade.
Mas para que haja essa mudança de objeto é preciso que a própria mãe desloque o seu desejo para o pai. É essa descoberta que permite perceber a falta de pênis e situar o falo como pura diferença, comandando o desejo. Antes de designar o pênis e o clitóris, o falo era o próprio corpo da criança investido pela mãe, razão pela qual a criança acredita tão facilmente que todos o têm. Segundo Pommier (1991), a criança percebe que aquilo que oferece à mãe não lhe convém e que irá procurar em outra parte o que ela não pode lhe dar. Com seu amor, a menina busca dar o falo à mãe e oferece a ela aquilo que lhe falta.
Com os olhos, a menina sente o prazer e o horror de perceber a castração da mãe e a sua própria. Eles seriam o afluente canalizador da libido para o núcleo central que é o falo, para o qual converte toda a energia. O fascínio do olhar que se dirige ao corpo materno está presente na histeria sob a forma do voyeurismo que se converte em uma fixação pulsional. A pulsão que a histérica apresenta de ver e seu oposto, de dar-se a ver, resultaria da visão traumática de seu corpo nu e castrado, num primeiro momento, e do corpo da mãe, num segundo momento. A revolta diante da castração leva a menina a investir esse corpo como sendo o falo e o coloca (o corpo) em primeiro plano, tanto na teatralização de seus sintomas quanto no exibicionismo desse corpo.
Através do olhar do pai, a menina abandona sua ligação com a mãe e pode buscar sua própria história, pois precisa que sua imagem lhe seja devolvida como promessa de mulher. Se esse olhar for muito insistente, a histérica atestará a sedução paterna, mostrando uma hiperfeminilidade. A menina exige do pai uma compensação simbólica por ter sacrificado o amor materno, esperando dele um amor ancorado no desejo. Como clímax da relação entre mãe e filha, a relação com o pai é passional, eco da paixão materna primitiva e cenário fantasístico onde essa paixão pode existir.
Nasio (1991) argumenta que a desordem da sexualidade histérica pode ser vista como conversão somática da angústia que domina a fantasia originária da histérica. Como o objeto perdido da histérica é o falo, ela produz um investimento narcísico no corpo todo, erotizando-o e inibindo a zona genital. Com isso, revive a primitiva ligação com a mãe quando era o falo desta. A histérica aponta para a impossibilidade de sair dessa relação em que era o objeto de desejo do outro (o que explica sua recusa em sê-lo), para buscar o falo e tê-lo.
Nesse contexto, a histérica histericiza o mundo à sua volta, erotizando qualquer expressão humana, que não é necessariamente sexual. Sua sexualidade é infantil, não visando à verdadeira relação sexual. Ela produz sinais sexuais que raramente são seguidos pelo ato sexual que anunciam. Essa sedução tem o mesmo sentido de um gozo masturbatório, e o que ela realmente deseja é que a relação sexual, como desfecho, fracasse, o que lhe garantirá a insatisfação.
A inibição genital, segundo Nasio (1991), se traduz por uma aversão a qualquer contato carnal. Ela se oferece, mas não se entrega, vendo-se presa numa insatisfação que se estende para a totalidade de sua vida. Agarra-se, então, a essa insatisfação, pois ela garante que seu ser não será violado. Nasio explica que, do contato sexual, resulta um gozo que ela percebe como um risco: a penetração, decorrente do ato sexual, significa, inconscientemente, pôr em perigo o falo, essa parte fantasisticamente superinvestida que, se fosse atingida, produziria a desintegração do corpo.
Diante desse quadro, ela não sabe definir se é homem ou mulher, jogando-se numa incerteza. Busca outra mulher com a qual possa identificar-se, solicitando dela a resposta à questão do “ser mulher”. Em um cenário, assim surge o ciúme: há um homem que a deseja e a quem ela se nega; há também a outra mulher que pode dar-lhe a resposta sobre sua feminilidade. Essa outra mulher, além de objeto de identificação, é fantasiada como a grande rival porque é “mais mulher”, podendo tomar-lhe o homem que elegeu como objeto de amor. Ao mesmo tempo, odeia perder esse objeto que a outra mulher tornou-se para ela.
Pommier (1991) considera que a relação entre a mulher e sua imagem é problemática e flutuante e os sinais que apontam para a feminilidade - o andar, a voz, o olhar e a postura - são universais e incontestáveis, mas não afirmam a identidade feminina para a histérica. Buscando essa certeza e esse saber, ela apela para o adorno: roupa, colar, chapéu, tudo que a torne visível, pois é assim que seu corpo, incompleto pela ausência de falo, adquire a necessária concretude para sua existência.
Com relação a esse corpo fantasmático, a imagem do espelho ou de uma foto será inadequada e insuficiente, pois sempre lhe falta algo. A mídia, atualmente, tem feito um apelo para que todos convoquem o que falta, tornando o consumo da perfeição do corpo um fenômeno que abarca o social, extrapolando a neurose individual.
As reflexões de Freud sobre a histeria como defesa contra as exigências morais da civilização renderam frutos e, em 1930, ele postulou que a repressão promove a civilização e que a civilização produz a repressão, indicando uma relação em que neurose e cultura se sustentam. Freud (1930) afirmou que, para ampliar a unidade cultural, a civilização produz tabus, leis e costumes para, através deles, impor restrições em nome da necessidade econômica, visto que grande parte da energia utilizada para fins culturais provém da sexualidade. Nesse sentido, a comunidade cultural começa seu trabalho repressivo nas manifestações da sexualidade infantil, pois seria impossível restringir a vida sexual do adulto, se essa repressão não tivesse seu fundamento na infância.
Assim, a vida sexual do homem civilizado é prejudicada, pois sua importância como fonte de sentimentos de felicidade diminuiu sensivelmente. A civilização utiliza, então, a libido inibida em sua finalidade para unir os membros da comunidade entre si: fortalece as relações de amizade (imprescindível no controle da agressividade humana, que ameaça a civilização de desintegração), incita as pessoas a identificações, a amar ao próximo. Dessa forma, o progresso da civilização e o desenvolvimento da sexualidade estão atrelados.
Em relação à histeria, mais especificamente à histeria na mulher, podemos enfatizar essa relação: a histérica é aquela que – por ação da realidade, da interdição e da lei – se vê impossibilitada de realizar seus desejos condenáveis surgidos na infância. Submete-se às exigências da cultura, mas ao mesmo tempo denuncia a civilização, além de manter a afirmação de sua estratégia de dominação, reconhecida na restrição ao prazer e à pulsão.
A trajetória da mulher é a trajetória da civilização ocidental, em que ela ocupa lugar de destaque na história do mundo, podendo ousar e desafiar. Desde a Grécia Antiga, a mulher está numa posição privilegiada: se não é a protagonista na cena, somente ela é capaz de torná-la possível. Lima da Cruz (1996) explica que o modelo hierárquico da Grécia antiga prevaleceu no pensamento cristão: não havia estatuto da feminilidade e as mulheres eram concebidas como seres inferiores ou imperfeitos, com órgãos sexuais masculinos internos. Isso marcava o apagamento das diferenças, que seria o ideal de perfeição. Na categoria dos imperfeitos, a mulher atingiria a perfeição ao passar para o gênero masculino. Por ser identificada à sexualidade, deveria tornar-se homem para atingir o plano sagrado. Nesse contexto, surgiram as mártires como produto de um modo de pensar que não abarca a diferença sexual, pois a martirização equivalia à masculinização da mulher.
No decorrer do século II d. C., os primeiros cristãos do Ocidente fizeram da renúncia à sexualidade o símbolo do restabelecimento da liberdade humana perdida, já que a sexualidade era o índice da servidão humana. No século XVII, os ideais de igualdade começaram a despontar na Europa e, no século XVIII, houve um questionamento sobre a imperfeição da mulher, já que todos seriam iguais. A diferença sexual foi tematizada e remetida ao plano anátomo-fisiológico. No século XIX, a anatomia patológica determinou que a mulher continuasse confinada a esse universo inespecífico e marginal, por ser incompreensível para a ciência fenomenológica.
Mesmo com a abertura ao organismo, proporcionada pela Medicina do século XIX, a questão ainda permanecia uma só: o discurso. Sua palavra seria a tomada de posição no que tange ao seu lugar na cultura. A feminilidade reivindicaria a produção de sua própria palavra. Branco & Brandão (1989) mostram que, com base no fundamento de que a linguagem estabelece uma ordem hierárquica, aquele que a detém ocupa um lugar privilegiado nessa ordem.
A literatura do século XIX mostra uma figura feminina idealizada e, por isso, inatingível. A personagem é construída no registro do masculino e não coincide com a mulher: em seu lugar fala uma heroína, sempre pronta a ser o desejo do desejo de seu herói. Essa heroína é o modelo de perfeição na beleza corporal ou na virtude pretendida que a coloca como amada, esposa e mãe.
Os contos de fada perpetuam, no imaginário feminino, o mito do amor romântico, que se opõe à autonomia pessoal da heroína adormecida, salva por seu herói. Essa imagem romântica vem alicerçar a representação da feminilidade no século XIX, fazendo ecoar esse conceito até os dias de hoje. A mulher torna-se, assim, a caricatura dessa personagem heróica. Ainda no século XIX, o conceito de feminilidade era tradicionalmente percebido como pólo oposto do masculino.
A mulher tem como trajetória a busca de identidade. Confrontada com o desejo da mãe em sua fase pré-edipiana, ela sempre retoma sua primeira pergunta: “quem sou eu?” O feminino, reprimido pela cultura, é percebido pelas mulheres como uma indefinição. Em sua feminilidade, a mulher denuncia a diferença, despertando o desejo do homem e gerando, como conseqüência, o aparecimento da cultura. O homem busca o poder para vencer o mal-estar que o feminino provoca por essa diferença que lhe aponta para a castração e para o limite.
Manso de Barros (1998) comenta a pesquisa realizada de abril a novembro de 1995 que enfocou quatro revistas para adolescentes. A idéia era verificar a maneira como as representações do sexo feminino, especificamente no processo do tornar-se mulher, são veiculadas. A pesquisa aborda a adolescência como o momento de descontinuidade, quando o sujeito reatualiza suas vivências infantis e depara-se com outras figuras onde se revisar. Nesse sentido, a escola lhe oferece as figuras que encarnam as funções maternas (cuidar, zelar) e paternas (prover, limitar), e exerce um papel fundamental na articulação que ele faz entre a sua própria história e a história da humanidade.
Em atos e pensamentos, a sexualidade toma a cena e revive a vontade de saber infantil. A menina torna-se mulher, cujo imaginário é povoado por informações e estereótipos construídos pela família, mantidos pela escola e, às vezes, reinventados pelas revistas que também os reforçam. É nesse contexto que ela acredita ter, na revista, o oráculo que vai ensiná-la como deve se comportar para ser feminina.
A escola, principalmente de sistema misto, propicia o movimento pulsional, mas não o acolhe nem reconhece o desejo e a diferença que ele introduz, pondo em xeque a identidade sexual que é conseqüência das representações sociais da diferença anatômica. Assim, a questão da identidade feminina, problematizada desde sempre, encontra mais um fator desestabilizador na escola, que se apropria do discurso da igualdade, eliminando a sexualidade e as idéias de desejo e diferença. Diante desse vazio de respostas e da anulação da identidade feminina, a adolescente volta-se para a mídia, buscando ajuda para se definir como mulher. As revistas abordam temas como paquera, desejo, pulsões, de forma ineficaz, e no “tornar-se mulher” propõem imagens do que é ser mulher.
Sodré (1996) coloca o avanço tecnológico como um fator de aceleração da interação social, que põe em crise as noções tradicionais de identidade pessoal. Sua hipótese é de que há uma mutação identitária na atualidade, produzindo monstruosidades: é o conhecido que não pode ser reconhecido devido à fragilidade dos critérios éticos, religiosos, estéticos e psicológicos, altamente transitórios. Como sujeito da mudança, o mutante é o suporte de qualidades passadas (as que vai perdendo) e futuras (as que vai ganhando).
Birman (1999) aponta para isso: o mundo contemporâneo é conturbado e os instrumentos interpretativos do ser humano ficam aquém da rapidez dos acontecimentos. O sujeito não consegue atender às demandas do mundo globalizado e vê-se lançado no desamparo. Nesse cenário, um novo social emerge, onde a fragmentação da subjetividade marca novas formas de subjetivação que se desdobram continuamente, onde o eu é privilegiado.
Autocentramento e exterioridade se conjugam para constituir essa nova subjetividade mutante. Hoje predomina a cultura do narcisismo e do espetáculo, marcada pelo requinte e pela engenhosidade. O desejo toma a direção exibicionista e autocentrada, na qual a intersubjetividade é esvaziada e desinvestida das trocas inter-humanas.
Sodré (1985) supõe que, na criação dos estados psíquicos, a televisão seria dionisíaca por entregar o telespectador a si próprio. O aparelho de TV é o outro que impõe um monólogo de imagens já construídas, deixando pouco à imaginação e, dessa forma, dispersa a atenção, arrebatando visualmente o telespectador: o sujeito vê TV e não o que está na TV. Contínua como o fluxo de consciência, a imagem é dada para consumo, sem maiores apelos ao intelecto.
Plenas de significados, as imagens atingem diretamente a parte menos vigiada do psiquismo, apelando aos prazeres e impondo-se como simulacro da realidade. Há predomínio sensorial, gerando uma tendência à passividade e à aceitação, sem reflexão sobre os padrões e modelos que vigoram no imaginário popular. Esse é um campo fértil para a histericização da mulher, oferecendo modelos, favorecendo identificações, possibilitando a assimilação dos caracteres femininos que respondem aos apelos adolescentes e às reivindicações histéricas.
Nesse campo de imagens falantes, a mulher se vê incluída nas formas de expressão cultural que problematizam superficialmente as eternas questões humanas, por um lado, e oferecem, por outro, a ilusão de amor que a mulher solicita. Aí entram as novelas com belas protagonistas que vivem paixões e lindas histórias de amor, fornecendo modelos de feminilidade, renovados com a mesma rapidez com que são difundidos, gerando homogeneidades.
Segundo Birman (1999), a subjetividade na cultura do narcisismo é caracterizada pela incapacidade do sujeito de admirar o outro em sua diferença, pois está excessivamente preso em si mesmo, vivendo em seu registro especular, e o que interessa é o engrandecimento grotesco de sua própria imagem. Dessa forma, não se produzem singularidades, caracterizando individualidades marcadas pela pobreza erótica e pela mediocridade simbólica, recusando o desamparo.
Essa é a lógica da não-diferença, que leva o sujeito a mostrar-se auto-suficiente e com horror a qualquer diferença. Por isso, produz a exaltação do seu eu e sempre que confrontado com a diferença que o outro representa, tenderá a anulá-lo para manter o equilí-brio narcísico do seu ser. Nesse sentido, o corpo, como fonte das pulsões, tende a ser preservado e como a beleza é uma das representações do falo – este símbolo da pura diferença e do desejo – ela se torna um ideal a ser alcançado.
Sodré (1996) aponta para a tecnologia da cosmética (medicamentos, psicologia euforizante, produtos de beleza, publicidade, etc.) e do corpo, que possibilita uma livre combinatória da identidade pessoal: da mudança de sexo até à montagem de personalidade, de acordo com a moda ou com o gosto pessoal. Portanto, os corpos são socialmente fragmentados. O corpo humano real é negado como insuficiente e só se tem notícia do sofrimento do neurótico “freudiano” (Sodré, 1996, p. 174) – difuso e sem sintomas claros – através do mal-estar dos outros. Nessa subjetividade neonarcísica, a identificação, por sugerir processo e alteração, é mais forte do que a identidade, com seus traços de estabilidade e unidade.
Delineia-se a mútua histericização entre cultura e mulher. Na medida em que a sexualidade é referida pelo primado do falo, a mulher se vê desprovida de identidade, já que o símbolo fálico mais visível é o pênis e a mulher sabe-se privada dele. Freud postulou que, não tendo nada a perder, a mulher seria um elemento perigoso à cultura, anarquizando a ordem e a lei. Por isso ela é tabu social. Sem um símbolo qualquer que lhe garanta sua existência real, a mulher se permite histericizar pela cultura, que lhe oferece as possibilidades de encontrar aquilo que a marque.
Como ser de alteridade, a mulher se vê presa no circuito visual que a cultura construiu para ela. Nesse sentido, a TV e a histérica se encontram especularmente no terreno da civilização: ambas estão presas no “dar-se a ver”, produzindo e reproduzindo homogeneidades, anulando as subjetividades e promovendo o apagamento da diferença. Como instrumento da cultura, a TV vem em seu socorro para histericizar a mulher, ávida por situar-se para si mesma.
Sem essa marca que acalmaria a angústia existencial, a histérica sente-se desprestigiada e morta para o social, sem o valor que é dado ao homem. Nesse contexto, surge a sedução como poder de dominação do outro; ela é privada, mas pode controlar seu entorno com a voz, as roupas (ou a ausência delas), o perfume, seu intelecto, que ora é brilhante, ora deixa a desejar. Investindo o corpo garante a existência do falo que esse mesmo corpo foi, um dia, para sua mãe.
Aqui aparecem os protótipos que povoaram a fantasia infantil: a beleza (pura compensação) ocupando o lugar da privação, hipervalorizada porque a mãe era o ser mais belo do mundo, mesmo quando a aterrorizava com seu corpo fálico. A histérica assimila esses modelos e se apropria de suas características para, em seguida, optar por outro. Dotada de um eu ideal frágil, marcado pela privação e pela insuficiência, a histérica está atenta aos ideais do eu que vai coletando pelo caminho, sempre em busca de resposta para as perguntas que a atormentam: como ser mulher e como fazer-se desejar por um homem.
Como explicou Sodré (1985), a cultura se modifica e se expressa a partir das tradições que existem em seu seio. É disso que a cultura de massa se apropria para se produzir. Portanto, instaura-se uma relação dialética: a cultura tematiza a angústia da mulher diante da castração e histericiza-a, recebendo, como resposta, a reação contrária. É uma relação de passividade e atividade, em que mulher e cultura se alternam continuamente.
A mulher histericiza a cultura com sua própria histeria, que vem da cultura através do controle das moções pulsionais. Como perigo à cultura, a mulher deve ser contida e a neurose é a melhor forma de contenção, pois não permite que a mulher desvie o homem de sua verdadeira função: produzir para a civilização e manter sob controle todas as suas conquistas. A histeria vem como alívio para a civilização, na medida em que impede a mulher de gozar com a relação sexual, pois ela é incapaz de ser o objeto de desejo do homem; seduz mas não se entrega, e fica intocada a necessária energia, retirada da sexualidade, que vai fazer a cultura evoluir.
Conclusão
A relação da histérica com a cultura é um eco da relação existente entre mãe e filha. Esta é uma interpretação possível para a assertiva freudiana de que a relação entre cultura e mulher é de histericização, baseando-se na hostilização mútua. Como elemento desestabilizador da cultura, pois denuncia sua castração (nem tudo pode ser controlado pelas exigências da civilização), a mulher está sempre mostrando a direção da morte e precisa ser domesticada. A melhor forma de calá-la é eliminar a diferença que ela comporta. Para isso, a cultura destrói o feminino que há na mulher.
Embora a mulher seja a melhor representante do feminino, esta é uma dimensão que escapa à diferença anatômica. Nesse sentido, a civilização se vê impelida a histericizar a dimensão feminina existente no homem, que também se submete ao apelo do visual: o homem forte, másculo, musculoso, viril e superpoderoso transformou-se no homem bonito, magro, mas não tanto, definido, mas não muito, delicado, gentil, agradável, educado. É o retorno do cavalheirismo de décadas pré-tecnológicas em contraposição ao homem contaminado pela tecnologia de guerra, que inclui a batalha histérica entre os sexos?
Ao destruir a dimensão do feminino, a cultura tenta afastar a morte. A sofisticação dos bens de consumo, da sociedade e do pensamento humano seria, nesse contexto, outra forma de histericização, desta vez do social? Tecnologia de ponta, dinheiro, conhecimento, evangelização, renascimento das velhas tradições religiosas, não seriam a marca do falo para a cultura, esta unidade mais ampla que não se suporta não-fálica? Freud levantou a hipótese de que o neurótico morre de inveja do perverso que, sem se submeter à lei, tem um supereu domesticado. É o eu pelo eu. Com o inconsciente em silêncio, submete o social. A cultura, construindo a ilusão de que ninguém morre e que ela é eterna, não estaria, como última saída, caminhando para a perversão?
Muitas são as perguntas e as possibilidades de atuação da Psicanálise no social. O que fica, destas reflexões iniciais, é que mesmo dizendo não à mulher, a cultura não pode prescindir de sua presença, porque sem ela, esse público interativo, não se pode criar a ilusão de que é possível ao sujeito viver, pois sabe que já está morrendo ao nascer.
Referências bibliográficas
Assoun, P. L.. Freud e a Mulher. Rio de Janeiro, Zahar, 1993.
Birman, J. Mal-estar na atualidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999.
Branco, L. Castelo & Brandão, R. Silviano. A mulher escrita. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1986.
Farias, F. R. de. Histeria e Psicanálise, o discurso histérico e o desejo de Freud. Rio de Janeiro, Revinter, 1993.
_______________. Do olhar à escuta – dois paradigmas clínicos. Texto inédito, apresentado à Associação Freudiana de Psicanálise do Rio de Janeiro e à Sociedade de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, doc. digit., 1999.
Freud, S. [1893]. “Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: Comunicação Preliminar”. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume II. Rio de Janeiro, Imago, 1996.
_______________. (1905e [1901]). “Fragmento da análise de um caso de histeria”. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume VII. Rio de Janeiro, Imago, 1996.
_______________. (1923b). “O Ego e o Id”. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XIX. Rio de Janeiro, Imago, 1996.
________________. (1930a [1929]). “O mal-estar na civilização”. Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, volume XXI. Rio de Janeiro, Imago, 1996.
Garcia-Roza, L. A. “Irma”. In: Garcia-Roza, Luiz Alfredo. Introdução à metapsicologia freudiana, volume II. Rio de Janeiro, Zahar, pp. 68-79, 1998.
_________________. “Pulsões”. In: Garcia-Roza, Luiz Alfredo. Introdução à metapsicologia freudiana, volume III, pp. 79-163, 1995.
Lima da Cruz, Ana Beatriz. “Histeria e feminilidade no discurso freudiano”. Dissertação de Mestrado (UFRJ). Orientador: Joel Birman, Rio de Janeiro, março de 1996.
Manso de Barros, Rita M. “A adolescência e o tornar-se mulher”. In: FARIAS, Francisco R. de. & DUPRE, Leila (orgs.). A Pesquisa nas ciências do sujeito. Rio de Janeiro, Revinter, pp. 157-82, 1998.
Muribeca, M. das M.M. “A feminilidade e o desejo da mulher”. In: Revista Insight, nº 105, ano 68, abril/2000. São Paulo, Lemos Editorial & Gráficos.
Nasio, J. D. A histeria, teoria e clínica psicanalítica. Rio de Janeiro, Zahar, 1991.
Pommier, G. A exceção feminina. Rio de Janeiro, Zahar, 1991.
Swain, G. “A alma, a mulher, o sexo e o corpo. As metamorfoses da histeria no fim do século XIX”. In: Birman, Joel & Nicéas, Carlos Augusto (cord.). O feminino: aproximações. Rio de Janeiro, Campus, pp. 13-35.
Sodré, M. A Comunicação do grotesco. Um ensaio sobre a cultura de massa no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1985.
_______________. “A mutação identitária”, In: Sodré, M. Reinventando a cultura. Petrópolis, Vozes, pp. 169-79, 1996.
Endereço para correspondência
Lilian Freire
Av. Olegário Maciel, 1899/301 - Jardim Paineiras
36016-011 Juiz de Fora-MG
Tel.: +55-31-3212-5920
E-mail: lujabour@powerline.com.br
* Jornalista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1992; Bacharel em Psicologia e Psicóloga formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2001.
© 2007 Conselho Federal de Psicologia
SRTVN, Quadra 702
Edifício Brasília Rádio Center
4º andar - Conjunto 4024ª
70719-900 Brasília - DF-Brasil
+55-61 2109-0100
revista@pol.org.br
Continue lendo...